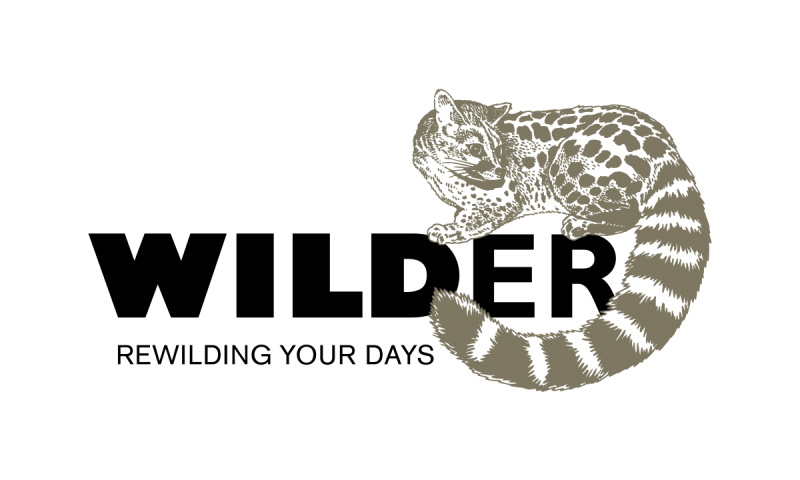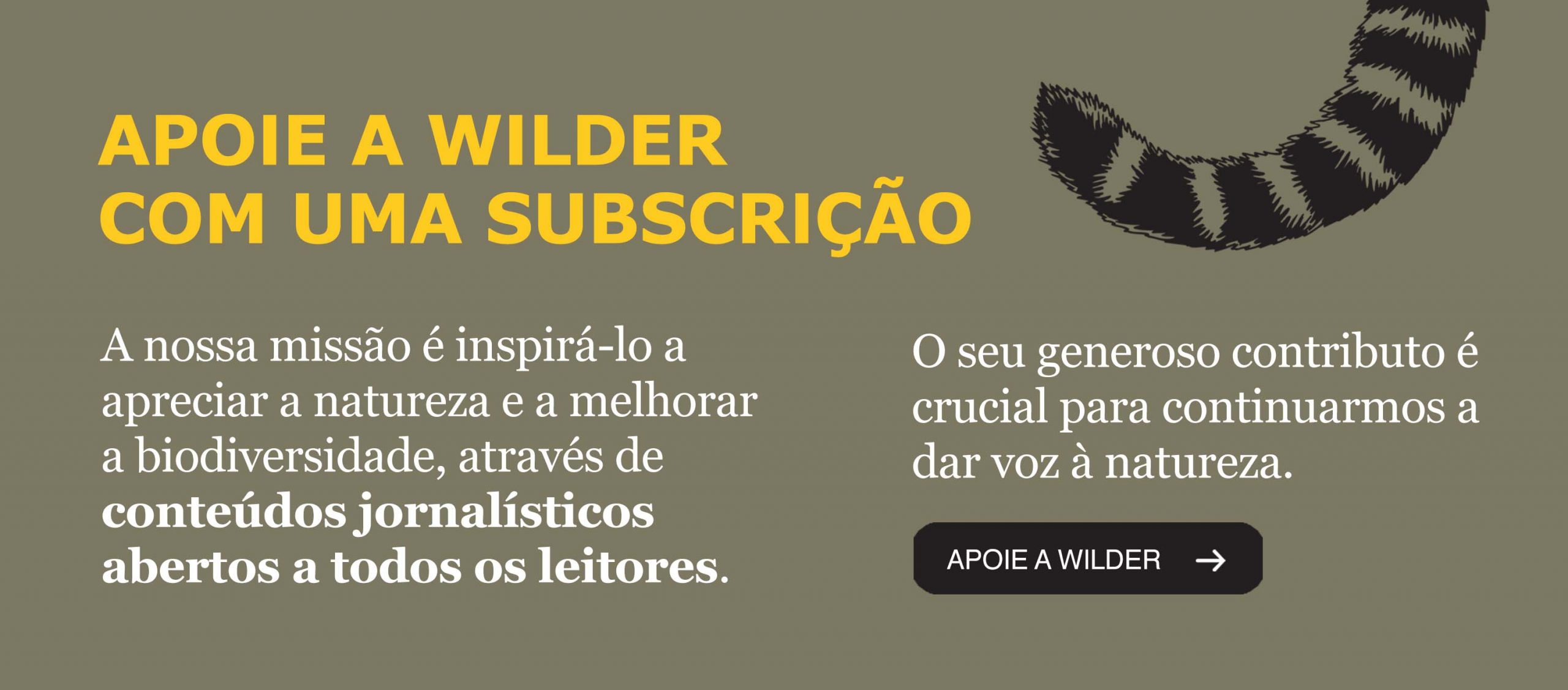Todos os meses, o projecto “Atlas das Paisagens Literárias de Portugal Continental”, ligado à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, dá-lhe a conhecer as paisagens e a biodiversidade que povoam as obras literárias de escritores portugueses.
“Nas terras mais próximas da estrada, compradas por dez réis de mel coado aos pobres que emigraram, ou aos velhos que as não podiam trabalhar, a fábrica do papel mandou plantar eucaliptos em filas intermináveis. E essas filas regulares de árvores calibradas, cuidadas, duma monotonia industrial, idênticas no porte como frangos de aviário, prenunciam um mundo novo, uniforme e controlado, fazem contraste ao passado que em torno delas agoniza lentamente.”
J. Rentes de Carvalho, Ernestina
Um escritor que nos fala sobre história e mudança da paisagem chama-se Carvalho, Rentes de Carvalho: coincidência de nome com a do género mais diverso de árvores nativas, imaginário florestal de um passado prístino e original! Ernestina (2009) é o romance que dedica a sua mãe e ao berço transmontano. Dele terá trazido a memória do seu olhar infanto-juvenil, lembranças das matas e matos de quercus, robles, alvarinhos, carrascos e, talvez, até de um montado de azinheiras. E também dos pinhais. Nas décadas de 1930 e 1940, a paisagem rural era marcada pela diversidade, correspondente a um mosaico de usos, que incluíam bosques, pastagens e cultivos de cereal, para além de olivais e amendoais, na vizinhança das aldeias.

Voltando adulto ao lugar abandonado onde nascera seu avô, e onde a paisagem se tornara “agreste como a de um deserto (…) hoje raro se vê alguém a cavar ou a lavrar”, algo se tinha interposto no manto das serranias. A transformação trouxera um novíssimo azulado e uma textura diferente para a cobertura arborizada: eucaliptos, plantados em “filas regulares de árvores calibradas, cuidadas, duma monotonia industrial, idênticas no porte como frangos de aviário”. O campo metamorfizado em grande oficina, o rural em profunda mutação. As fábricas de papel, com sede na lonjura de um rio distante – no Caima, no Tejo, no Sado ou noutro –, estavam ali. Ali se produzia a matéria-prima, para o mais fino scritta, o couché, o almaço, o sulfite, a cartolina e o cartão. Empresas desenvolviam os seus braços tentaculares para onde encontravam condições ecológicas ou sociais-económicas para a sua (im)plantação: “Nas terras mais próximas da estrada, compradas por dez réis de mel coado aos pobres que emigraram, ou aos velhos que as não podiam trabalhar”. As mudanças observadas eram profundas e estruturais: “Os burros e os mulos são poucos. Os bois desapareceram. Rebanho não há nenhum. A linha do comboio fechou.” Sem gente e sem trabalho, pode ainda o campo ser campo? A nostalgia do autor não chega a responder aos leitores.
O eucalipto globulus, em inglês chamado de Blue gum por causa da tonalidade das folhas jovens, é uma árvore de perfil estreito e alto, de cumeada apontada, originário da Austrália. Cresce rapidamente – bastam-lhe 7 anos para atingir 20 metros –, produzindo material lenhoso adequado à fabricação de celulose, a pasta de papel. Veloz sucessão de cortes, a promessa de rendimento garantido. Nesta vertigem, a terra consome-se, perde a sua fecundidade: o solo e a água esgotam-se. A monocultura florestal é ainda pobre em acompanhantes vegetais e animais. A primavera é mais silenciosa na paisagem industrial. E o fogo mata, demónio à solta em sistemas inflamáveis, sobretudo quando mal geridos ou negligenciados.
As representações do eucalipto na literatura não abonaram à sua estética, nem convidaram o leitor ao deleite ou à contemplação. O conde de Ficalho, no conto “A caçada da malhadeira” (1888), menciona isolados “eucaliptos magros e despenteados”. Na obra de Eça de Queiroz, A Cidade e as Serras (1901), Zé Fernandes diz a Jacinto que a árvore que cresce mais depressa é “o feíssimo e ridículo eucalipto”. Em Pão Incerto (1964), de Assis Esperança, sugere-se uma forma de recuperar os solos degradados pela Campanha do Trigo no litoral algarvio, através de uma “técnica dinâmica” em que se associam diversas espécies arbóreas e práticas de maneio, mas com “os terríveis eucaliptos desterrados dali, e para sempre”. Pelo meio da paisagem do Gerês, Miguel Torga identifica “carvalhos centenários a refletir a pujança na limpidez da corrente” e “eucaliptos pernaltas a furar o teto da folhagem e a perderem-se no céu”. Um eucalipto ornamental plantado na beira da estrada, próximo de Alcácer do Sal, é o local da morte de Duarte Pacheco, num acidente de viação, choque brutal contra a árvore (Filomena Marona Beja, Cova do Lagarto, 2007). Já antes, na mesma obra, “a varanda da Albina” fora “derrubada por um tronco de eucalipto.”

Mas são as palavras de Rentes de Carvalho, que aqui se destacam, que extravasam a dimensão ecológica ou ornamental do eucaliptal e exibem uma dimensão política plasmada na nova paisagem. Enquanto fábrica, ela é um símbolo do poder e sinal da exploração, homogeneização, controlo e prescrição. Um mundo rural que morre às mãos de indústrias e empresas, irmanando humanos e não humanos: os eucaliptos “prenunciam um mundo novo, uniforme e controlado, fazem contraste ao passado que em torno delas agoniza lentamente”.
A monocultura não é apenas barreira para herbáceas e arbustos que não se desenvolvem, ou para a fauna selvagem que a não habita. O eucaliptal, fábrica de papel, é aqui metáfora de um Admirável Mundo Novo (1932), de Aldous Huxley, ou de outras distopias representadas na literatura da atualidade, de que são exemplos as assinadas por Margareth Atwood (e.g. História de uma serva, 1985; O coração é o ultimo a morrer, 2015).
Ana Isabel Queiroz pertence ao grupo de investigadores ligados ao “Atlas das Paisagens Literárias de Portugal Continental”. Esta é a décima segunda e última crónica da série Escrita com Raízes.